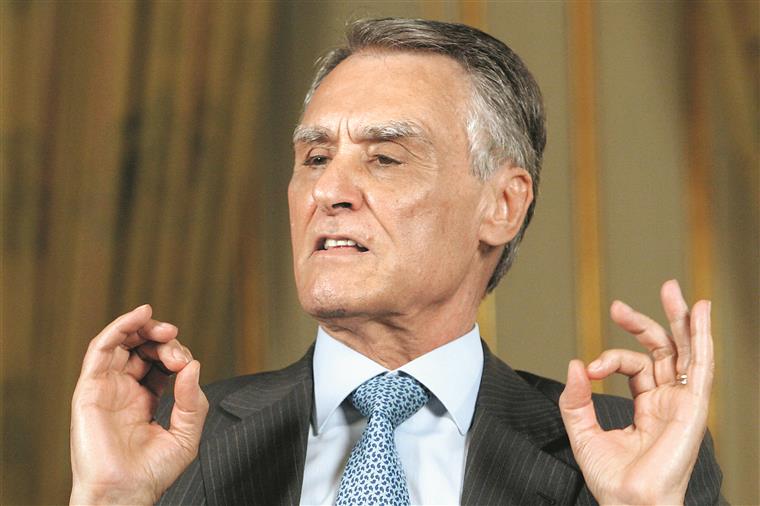A CRISE POLÍTICA EM ESPANHA E SEUS REFLEXOS NO PSOE
A Espanha vive uma crise profunda: uma crise política, uma
crise territorial e uma crise moral. Apenas a economia cresce, mais do que em
qualquer outro país da Europa, apesar de o desemprego continuar a registar
níveis elevadíssimos. Todavia, não é a crise económica que mais tem preocupado
os espanhóis nestes últimos dois anos. Depois de anos muito duros com reflexos
directos numa elevadíssima percentagem da população, como o desemprego e a
perda de habitação própria, os últimos dois anos têm registado níveis de
crescimento invejáveis, daí resultando expectativas favoráveis mesmo para a
população que continua a sofrer os efeitos da crise. Este crescimento, o
funcionamento regular do sistema financeiro e a emigração em massa de centenas
de milhares de jovens quadros têm contribuído para que a crise económica não
tenha em Espanha o mesmo peso que continua a ter nos demais países da Europa do
sul.
A crise política que actualmente se vive em Espanha, embora
não deixe de reflectir as profundas divergência existentes entre os espanhóis
sobre a condução da economia, tem as suas raízes mais profundas na grave crise
moral em que a classe política espanhola mergulhou o país. A corrupção reina em
Espanha. Reina com Rajoy como reinou com Gonzalez e continua a reinar na maior
parte das autonomias onde governa o PP e o PSOE. Face a esta degradação da
classe política e dos seus corruptores, a Espanha fragilizou-se internamente e
deixou de ter condições para lutar politicamente contra as forças centrífugas
que ameaçam a sua integridade territorial consolidada a duras penas há cerca de
quatrocentos anos.
Curiosamente, a questão europeia tão presente nos países do
sul da Europa e mesmo em largas camadas da população de outras regiões da
Europa não tem em Espanha a mesma importância que tem nestes países, apesar de
ela também condicionar fortemente o seu desenvolvimento económico. Creio que
não tem, porque a Espanha e os espanhóis continuam a viver com o Carlos V
dentro da cabeça. A Espanha nunca perdeu o seu espírito imperial, e mesmo quando
está reduzida ao que hoje é continua a supor que é muito mais importante do que
aquilo que realmente é. Daí que os constrangimentos impostos por Bruxelas não
sejam como tal interiorizados, mas antes como ordens que eles próprios dão aos
demais. Ou seja, a Espanha sempre se vê como um par, nunca como um subalterno.
Até com Hitler foi assim…
Voltando à crise espanhola. Essa profunda crise moral que
acima referimos, as profundas divergências sobre a condução da economia e
também a crise territorial, entretanto agravada, deram lugar num contexto de
crise económico-financeira generalizado ao aparecimento de dois novos partidos
nacionais que vieram “destabilizar o centrão” saído da transição. É certo que o
PP, por razões estratégicas bem compreendidas pelo eleitorado de direita, não
surgiu imediatamente após a transição como partido de governo, mas com a rápida
desagregação da UCD, acabou por se fixar como partido de poder juntamente com o
PSOE. Acontece que esses dois partidos emergentes saídos da crise, um à direita (para regenerar o PP) e outro à esquerda (para fazer o que o PSOE há muito deixou de fazer),
rapidamente mobilizaram cerca de 10 milhões de eleitores, um pouco menos que
metade dos eleitores votantes, e, apesar das fortes distorções do sistema
eleitoral espanhol, elegeram um número de deputados suficiente para
inviabilizar a formação de qualquer
governo que não passasse por eles, a menos que os dois partidos mais votados,
PP e PSOE, se coligassem ostensiva ou tacitamente.
E é aqui que começam as grandes dificuldades do PSOE. Vivendo
na ressaca da profunda crise da social-democracia europeia, pela sua
entusiástica colaboração nas políticas de direita, de cariz neoliberal, o PSOE
teve nas eleições de Dezembro do ano passado de lutar para que o partido de
esquerda emergente – PODEMOS - o não
relegasse para um desonroso terceiro lugar. Embora pela margem mínima, alcançou
esse objectivo , que lhe permitia colocar-se em posição de se poder apresentar
como alternativa a Rajoy caso o PP não conseguisse reunir nas Cortes os votos
suficientes para viabilizar a investidura.
O Secretário-Geral do PSOE, Pedro Sánchez, deu indicações
suficientes de que estaria disposto a formar um governo com base numa ampla
coligação que integrasse as forças de “cambio”. Acontece que, mesmo antes de
iniciar diligências necessárias a esse fim, os “barões do PSOE” conseguiram
impor-lhe nos órgãos do partido limitações que na prática inviabilizavam a
formação de um governo alternativo, todas elas relacionadas com o problema
territorial que serviu como excelente pretexto para impedir que fosse posta em
prática uma política de esquerda.
Limitado às alianças à direita (Ciudadanos), Sánchez não pôde
contar, como seria de esperar, com a concordância de PODEMOS, nem sequer com a
sua abstenção. Se é certo que o PSOE não poderia contar com a colaboração de
Iglesias, que como terceiro mais votado e com quase tantos deputados como o
PSOE esperava muito mais do que uma simples abstenção, também é verdade que a
imaturidade política deste novo partido de esquerda e algumas incertezas programáticas
não ajudaram à criação de um clima de confiança que desse força a
Sanchez para lutar convictamente dentro do seu partido por soluções mais
ousadas.
O acordo que Sánchez fez com Ciudadanos era muito semelhante,
na concepção, ao que permitiu a investidura do actual Governo português. Sánchez
governaria, comprometendo-se a pôr em prática as medidas acordadas, e
Ciudadanos apoiá-lo-ia no Parlamento. Mas a ideia não tinha condições para
vingar se não contasse, no mínimo, com a abstenção de Podemos. E não contou,
como, de resto, seria previsível.
A inviabilizada a investidura do Sánchez, e consequentemente
do Governo PSOE, foram convocadas novas eleições. Nestas eleições, de Junho
passado, o PP continuou a ser o partido mais votado, tendo inclusive aumentado
o número de deputados, o PSOE conseguiu aguentar-se como segundo partido, à
frente de Podemos, mas voltou a perder votos e deputados, ganhos pelo Podemos,
que, apesar desta pequena vantagem relativamente às eleições de Dezembro/2015,
não pôde deixar de interpretar os resultados eleitorais como decepcionantes já
que todas as sondagens lhe asseguravam o segundo lugar com um considerável
acréscimo de votos e de deputados, entre outras razões porque a aliança
entretanto alcançada com a Izquierda Unida lhe garantia à partida, ou parecia
garantir, mais de um milhão de novos votos, o que na realidade não aconteceu .
Ciudadanos manteve o quarto lugar, perdeu alguns, poucos, deputados, todavia os
suficientes para que os seus votos unidos ao do PP não garantissem a maioria
absoluta.
Perante este quadro, Ciudadanos fez várias exigências a Rajoy
para entrar num acordo, todas elas, ou a maior parte delas, relacionadas com a
corrupção. Um acordo que não garantia a investidura de Rajoy mas que lhe
permitia pressionar, no mínimo, a abstenção do PSOE. Só que as pressões não surtiram
o efeito esperado. Obtido o acordo com Ciudadanos, Rajoy procurou chegar a
acordo com Sánchez, quer mediante a negociação de uma grande coligação, quer,
mais modestamente, tentando assegurar a sua abstenção.
Tal como no “sermão da montanha”, Sánchez, apesar das
múltiplas promessas que lhe eram feitas e dos lugares que lhe ofereciam, apesar
também da enormíssima pressão mediática para que fizesse uma coligação ou se
abstivesse para permitir a entrada em funções do “ governo de Espanha”, Sánchez
não cedeu. Alinhando ao lado da restante oposição(nacionalistas de direita e de
esquerda, independentistas e restante esquerda), votou contra e Rajoy não
passou. Rajoy não foi capaz de juntar aos seus votos e aos dos Ciudadanos os poucos
que lhe faltavam para formar governo.
Enquanto decorreram as negociações e as conversas com vista à
formação do novo governo ninguém nos órgãos directivos do PSOE advogou o voto a
favor de Rajoy, nem mesmo a abstenção. Fora dos órgãos do partido já o mesmo se
não passou. Em artigos de opinião, em declarações em off multiplicavam-se as vozes, todas elas oriundas do mesmo sector,
para que Sánchez se abstivesse. Sánchez, sempre muito próximo do que entende
ser a vontade dos militantes, invocava a posição do partido para sacudir a
pressão e deixar os seus opositores internos em consonância com as vozes da
direita. Até que Felipe Gonzalez que, apesar dos negócios a que agora se dedica
e da traficância de influências que ostensivamente pratica, parece ainda ter
tempo para continuar a dirigir na sombra a direita do PSOE, saltou a terreiro e
com a brutalidade de linguagem que se lhe reconhece “exigiu” que o PSOE se
abstivesse em nova tentativa de investidura de Rajoy. No que logo foi seguido
pela “seita de Andaluzia” e pelos “barões” de Castilla-La-Mancha, da
Extremadura e de Aragão.
A partir desse momento, que aliás coincidiu com a declaração
de Sánchez de que era preciso dotar a Espanha com um Governo composto pelas
forças “del cambio”, a guerra surda que a direita do PSOE, aparentemente
comandada por Suzana Diaz (Andaluzia), mas na realidade telecomandada por
Felipe Gonzalez, já vinha fazendo a Sánchez subiu de tom e o secretário geral
do PSOE passou a ser um alvo a abater.
Só que as coisas não lhes correram bem. Sánchez anunciou a
convocação do Comité Federal para o próximo este sábado com vista à marcação
das directas para a eleição do secretário geral e do subsequente Congresso para
que o partido passasse doravante, em matéria de formação de governo, a falar a
uma só voz.
Postos perante esta situação, os “barões” do PSOE jogaram
abertamente no “golpe” para afastar Sánchez. Demitiram-se em bloco da
“Ejecutiva” do partido, na qual contavam com 17 lugares, composta
estatutariamente por 38 membros, embora actualmente apenas com 35, de modo a
deixá-la sem quórum, ou seja, apenas com os 18 membros que apoiam Sánchez, para
com base nesse expediente defenderem a tese de que o SG tem obrigatoriamente
que se demitir, sendo a direcção do partido entregue a uma “gestora”, uma
espécie de comissão administrativa, encarregada de dirigir o partido até a
realização de novo congresso e a consequente escolha do Secretário geral. O
objectivo era permitirem, nesse entretanto, a formação do governo de Rajoy e a
realização do Congresso num tempo em que já houvesse um governo em funções,
dificultando assim a reeleição de Sánchez que apareceria perante o Congresso
como grande derrotado, quer internamente quer no confronto com as demais forças
políticas.
Acontece que os estatutos do PSOE não autorizam a interpretação
dos perpetradores do “golpe”. A “Ejecutiva” manter-se-á em funções, Sánchez
também, o Comité Federal reunir-se-á hoje e logo se verá em que sentido os seus
membros vão decidir.
Uma coisa, porém, é certa: se o Comité Federal decidir pela
abstenção, Sánchez demitir-se-á. Mas ainda e cedo para fazer prognósticos….