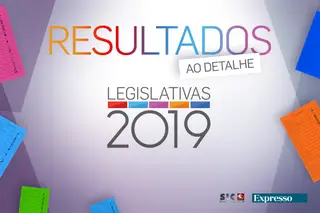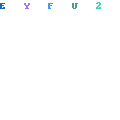COMPARAÇÃO COM OS MANDATOS ANTERIORES
Apesar de Trump ter sido eleito em 2016 e empossado
como Presidente dos Estados Unidos em Janeiro de 2017, continuam a causar
surpresa e muita perplexidade algumas das posições por ele assumidas no plano internacional.
Todavia, o tempo decorrido e a prática desde então seguida no plano das
relações internacionais já seriam suficientes para se tentar uma interpretação do que realmente se está a
passar.
De facto, Trump tentou aproximar-se da Rússia
com vista ao estabelecimento de uma relação que atenuasse a crispação existente
entre os dois países como consequência quer do “cerco” que a Nato montou em
redor das fronteiras norte e ocidental da Rússia quer das tentativas até agora
falhadas de fazer o mesmo na fronteira sul e até nas fronteiras orientais, bem
como consequência da resposta russa a estas manobras – a reintegração da Crimeia
no território pátrio. Essas tentativas foram manifestamente boicotadas pelo “establishment”
de Washington que lançou mão de toda uma série de insinuações para
descredibilizar a acção do Presidente. Não obstante, toda essa oposição, a
relação entre os dois países acalmou-se, contrariando assim parcialmente os
interesses do complexo militar-industrial, que necessita, para poder crescer e prosperar,
de uma relação com a Rússia sempre à beira do conflito, como potência militar
mais poderosa depois dos Estados Unidos. A Rússia, porém, não representa na
mundividência de Trump um concorrente, daí que situação, tal como está, o satisfaça,
desde que a NATO não crie situações de facto que o obriguem a gastar dinheiro. Que
é exactamente o que Trump não quer, embora esse objectivo apenas disfarce a
pouca ou nenhuma importância que atribui à Nato, no quadro da sua concepção imperialista.
Um tipo de actuação semelhante passou-se nas
relações com a Coreia do Norte. Depois de um período de grande tensão em parte
provocado pelo nervosismo com que Kim Jong-un reagiu à eleição de Trump – ele também
uma vítima da campanha americana anti-Trump que rapidamente se estendeu aos
quatro cantos o mundo -, contra todas as expectativas Trump divisou naquele comportamento
não apenas um oportunidade de negociação mas uma vontade de negociação que, se
bem aproveitada, poderia vir a criar sérios problemas à China. Essas
negociações, ou mais correctamente, essas conversas entre os dois dirigentes
foram mais longe do que alguma vez tinham ido nos múltiplos contactos já
tentados entre os dois países. Apesar de Trump não ter clarificado suficientemente
a sua ideia e de, portanto, não ser fácil antever as possibilidades de êxito, o
que parece não haver dúvida é que Trump foi boicotado, porque a ideia, mesmo que bem trabalhada, de uma desmilitarização da península da Coreia, é algo que o imperialismo
americano da linha tradicional nem sequer pode ouvir falar. Aliás, não foi por
acaso que Kim Jong-un disse que as negociações tinham de ser com Trump. O “dossier
Coreia” não está fechado, longe disso, mas acalmou e pode ainda ter uma saída
aceitável se Trump for reeleito.
Da América Latina nem vale a pena falar tão
grande é a diferença que separa a política desta administração das
antecedentes, quer com “amigos” e aliados quer com inimigos. Apenas de registar
a forma como Trump conseguiu escapar à “cilada venezuelana”, montada por
Bolton, Pence & C.ª. Sendo de esperar que uma escalada das sanções tenha em
vista forçar uma negociação numa posição negocial mais favorável.
É contudo no Médio Oriente e no Afeganistão
que o conflito entre a estratégia imperialista de Trump e a dos seus mais
próximos antecessores é mais evidente. O
Médio Oriente, principalmente o Golfo, embora conserve uma grande importância
estratégica, está hoje longe de representar para os Estados Unidos o mesmo que
já representou há uns anos atrás. Mas nem por isso deixa de ser uma região onde
Trump tem tido muita dificuldade em impor a sua política. O reconhecimento de
Jerusalém como capital de Israel está longe de ter o significado que inicialmente lhe foi atribuído. Significa fundamentalmente a garantia dos Estados Unidos à
continuidade de Israel como Estado independente. Mas não significa maior
envolvimento na região. Aliás parece mesmo ser a contrapartida de um menor
envolvimento. Todavia, as dificuldades para esse menor envolvimento são
notórias. É que de pouco vale dizer que o objectivo é mandar para casa todos os
soldados americanos em serviço no Médio Oriente e depois reforçar as forças navais no Golfo e o contingente
americano na Arábia Saudita com mais dois mil homens, mais uns tantos
esquadrões de caças e um novo sistema de mísseis, justificado pelo recente
ataque de drones a instalações petrolíferas. De pé permanece porém a ideia de
que a guerra no Iémen não será ganha e isso levará inevitavelmente a retirada das proximidades do teatro de operações. Já na Síria parece em vias de consumação
a retirada das tropas americanas do terreno, apesar das críticas que
chovem de todos os lados.
No Afeganistão, as negociações de paz goraram-se
aparentemente por culpa dos talibãs, embora actos da natureza do que provocou o
rompimento das negociações, em princípio, não ocorram desinseridos de um
contexto de boicote, de um lado ou do outro. De qualquer modo, a semente está
lançada e mais mês, menos mês, as conversações acabarão por ser retomadas.
Quanto ao Irão, a questão complica-se por se
tratar de algo que continua na agenda israelita como primeira prioridade. Todavia,
se a intenção de Trump fosse fazer a guerra pretextos não lhe faltavam para a
começar, mesmo sob a forma de retaliação. Mas também aí já se percebeu que não
é esse o seu objectivo. O que parece movê-lo é a intenção de obrigar o Irão a
renegociar o “tratado de não proliferação nuclear”, um tratado, diga-se, que
não vinculava os Estados Unidos não obstante a assinatura de Obama.
Deste breve enunciado do que parece ser a
política externa americana na administração Trump, a primeira grande diferença
entre este presidente e os seus antecessores mais próximos é a que resulta de
ele querer restaurar a grandeza (perdida) da América de dentro para fora e não
o contrário. E daí decorrem logo uma série de consequências politicas.
Nacionalismo económico por contraposição a uma globalização de cariz neoliberal
que destruiu indústria americana, estava em vias de destruir a agricultura e
iria ter graves consequências no próprio sector terciário por força da
acumulação de capitais que aquela política gerava nos concorrentes, muitos
deles "amigos" e aliados, da América. No plano externo, para fazer a
defesa dos interesses americanos, Trump actua, não obstante uma ou outra
fanfarronice (quase sempre para tirar vantagens negociais), quer pela via das
sanções quer pelas das tarifas alfandegárias, consoante a importância e a força
da contraparte (Irão, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, no primeiro caso; China
e União Europeia, no segundo). A guerra, segundo Trump, dá prejuízo (e nisso
ele tem indiscutível razão), e envolve a América numa teia de compromissos e
situações da qual terá sempre muita dificuldade em sair. Daí que ele afirme que
"uma grande potência não pode participar em guerras que nunca mais acabam".
Esta frase, para quem a souber interpretar devidamente, ilustra uma estratégia
que pressupõe um método de acção (atrás genericamente descrito) mas também uma
forte ameaça, mais ou menos desta natureza: "Se nos obrigarem a ir para a
guerra, então, com os meios que nós temos, ela será uma guerra rápida".
Obviamente, que nada disto tem a ver com a estratégia imperialista de Bush,
Cheney, Clinton, Obama & Cª, que é uma estratégia imposta pela complexo
militar-industrial contra a influência do qual Eisenhower, no fim do segundo
mandato, foi a primeiro a alertar. Não apenas por força desta influência mas
também por tradicionalmente a via da presença militar ser aparentemente a que melhor
salvaguarda o domínio. Ora, o que parece estar a levar a esta alteração de
política é o efeito alcançado estar cada vez mais longe de ser o pretendido ou o
esperado. Os Estados Unidos têm centenas de bases militares por todo o mundo, têm
destacados milhares de soldados e perdem dinheiro, enquanto os que teriam a
obrigação de financiar esse esforço de defesa o poupam, além de economicamente estarem
mais fortes e mais concorrenciais. Esta ideia de assegurar a grandeza actuando
de fora para dentro tem dado, segundo Trump, resultados muito negativos. E talvez Trump não conheça as últimas duas décadas da URSS, porque se as conhecesse mais reforçadas ficariam as suas convicções...
E
poderíamos continuar, enfim. Quem supõe que Trump é um bronco, por ele ter dito que
Joe Biden só é conhecido como político por ter andado oito anos a lamber o rabo a
Obama, vai-se arrepender, mais tarde, de ter olhado para o mandato de Trump
segundo as reacções pavlovianas que as centrais de intoxicação se encarregaram
de veicular com muito êxito. Ou seja, quando alguém pronuncia "Trump", a essa palavra são logo associados um conjunto de adjectivos e outras
qualificações depreciativas que imediatamente impedem o sujeito de pensar. Todavia,
as coisas têm uma lógica…